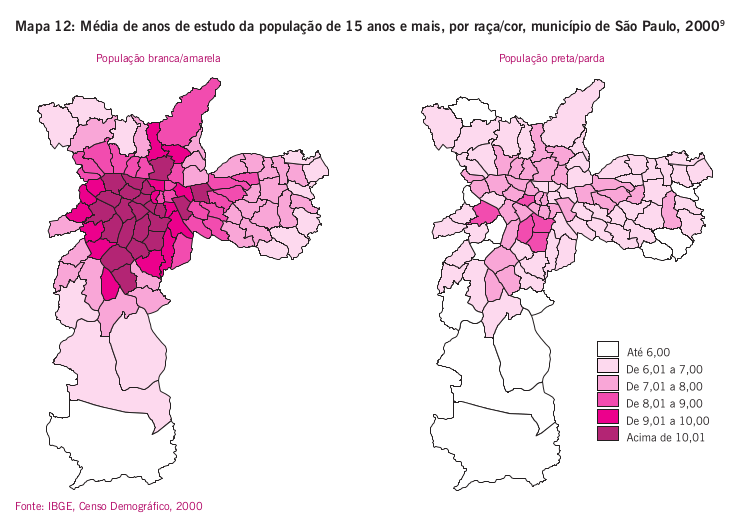Na semana passada (18/10), a correspondente da revista britânica ‘The Economist’, Helen Joyce, respondeu a um artigo em que eu fazia críticas a uma reportagem da publicação.
Na semana passada (18/10), a correspondente da revista britânica ‘The Economist’, Helen Joyce, respondeu a um artigo em que eu fazia críticas a uma reportagem da publicação.
Fico feliz que a internet possibilite essa troca de ideias franca, com base em argumentos e dados. Agradeço à jornalista pela disposição a entrar no debate.
Basicamente, a reportagem de Joyce “Pensions and education: Land of the setting sun” afirmava que o Brasil investe 5.6% do PIB em educação, e dizia que este valor era maior que a média investida nos países da OCDE – sugerindo que os recursos não são insuficientes, mas mal gastos. Um dos principais motivos para a ineficiência: o gasto excessivo com aposentadorias no setor.
Meu principal argumento foi, então, que a referência “porcentagem do PIB”, por si, não é suficiente para comparar os países. Seria preciso utilizar outras variáveis, como o número de matrículas e a demanda educacional (os desafios a enfrentar) e o valor absoluto do PIB (o tamanho da riqueza do país). Por isso, trouxe a comparação do gasto por aluno/ano em dólar PPP (poder de paridade de compra) – nesse quesito, o Brasil investe menos de um terço que a média da OCDE.
Mas, em sua resposta, Joyce afirma que o PIB per capta do Brasil também é cerca de 1/3 da média da OCDE, e que portanto o Brasil deve investir o que seus contribuintes podem pagar; e propõe levar o argumento ad absurdum para mostrar que seria inviável pagar a média da OCDE também às enfermeiras, garis, policiais etc.
Trata-se de uma falácia lógica. Imaginemos a seguinte situação: O país A, rico, investe 0,5% de seu PIB em salário de professores. O país B, pobre, investe 1% do PIB em salário de professores. O que isso quer dizer? Nada. Para saber qual país garante melhor condição financeira para seu setor educacional, precisaríamos saber o tamanho do PIB de um e de outro, assim como o número de professores que um e outro possuem. Sem contar o grau de defasagem que o salário dos professores podem ter em um país com relação a outras carreiras de formação equivalente, o que demandaria maior esforço para sua valorização.
O interessante é que, naquela mesma reportagem, Joyce comparava o aprendizado de alunos brasileiros ao de outros países, com base em ranking da avaliação internacional PISA, também da OCDE — para dizer que o país vai mal. Ora, se não podemos comparar o investimento dos países em termos per capta (mais precisos que a porcentagem do PIB), por que podemos comparar o desempenho dos alunos?
Com esse argumento, a ‘Economist’ acaba por repetir a lógica que está por trás do baixo grau de investimento na educação pública no Brasil: educação pobre para os pobres. Aqui, a classe média chega a pagar mensalidades de R$ 1.500,00 para seus filhos no ensino médio, enquanto o aluno da escola pública custa R$ 180,00 por mês (custo-aluno do Fundeb). Como comparar as condições oferecidas pelas duas escolas? Não estamos sequer falando da realidade de dois países diferentes, estamos falando de alunos que moram na mesma cidade, às vezes até no mesmo bairro.
Joyce argumenta ainda que os desafios educacionais podem ser grandes também em outros países — mas acho bastante problemático supor que a dívida social e as desigualdades educacionais brasileiras sejam comparáveis aos desafios britânicos. Ela cita o caso dos imigrantes, dizendo que a Grã-Bretanha tem mais estudantes nessa condição: “visitei salas de aula em Londres que possuem 30 crianças que falam 20 línguas diferentes (…) esse é um problema que o Brasil não enfrenta”.
Sem menosprezar os desafios da Grã-Bretanha para garantir o direito educacional dos imigrantes, gostaria de discordar, novamente, de Joyce: se formos falar apenas das populações indígenas, o Brasil tem mais de 180 línguas diferentes. E, para cada uma delas, deveria estar assegurado o ensino na língua materna (é o que diz a Constituição Federal de 1988), o que está muito distante de acontecer.

Fora os desafios como a expansão das creches (apenas 18% das crianças de 0 a 3 anos tem acesso a essa etapa, sendo que a meta para 2011 era chegar a 33%); a expansão do ensino superior, como citei em meu primeiro post; o pagamento de um piso salarial para professores, que atualmente ganham 60% do valor pago a outros profissionais de formação equivalente… para citar alguns deles.
Eu digo: não é possível imaginar o cumprimento do próximo Plano Nacional de Educação sem mais investimentos. E ela conclui, apressadamente: “bem, então há algo de errado com o Plano Nacional de Educação”. Outros países, argumenta Joyce, fazem um ótimo trabalho com muito menos. Insisto na questão: depende dos desafios que se quer enfrentar. A Coreia do Sul só chegou ao patamar em que está porque investiu, durante uma década, 10% de seu PIB em educação.
Não, o PNE não está errado. Só se for por sua timidez. Não podemos imaginar metas menos ousadas para 10 anos que pagar o piso a professores; incluir todas as crianças na escola — entre 4 e 17 anos; superar o analfabetismo; oferecer ensino integral a 50% dos alunos matriculados, e assim por diante… errado está o Estado brasileiro que até agora não garantiu o mínimo a seus cidadãos.
A questão toda aqui é que não estamos numa corrida para ver quem investe mais ou menos em educação: estamos lutando por referências para mensurar o custo de uma educação de qualidade. Pesquisadores produziram o estudo de um Custo-Aluno Qualidade (CAQ, previsto em nossa legislação, mas nunca regulamentado). O Conselho Nacional de Educação aprovou resolução nesse sentido, mas o Ministério da Educação jamais homologou a regra.
O CAQ inverte a lógica do financiamento educacional: não parte de quanto temos disponível, mas, sim, de quanto é preciso para garantir o mínimo para uma educação de qualidade (infraestrutura, insumos, professores). A partir daí, calcula-se o necessário e buscam-se fontes de financiamento. No cálculo do necessário, chega-se a 10% do PIB — o mesmo esforço que a Coreia do Sul fez por uma década no pós-guerra, com a ressalva de que por aqui espera-se levar uma década para atingir essa meta.
Por fim, quanto às aposentadorias estarem ou não incluídas nos 10% do PIB, esse tema rende ainda um outro post. Tem a ver com os conceitos de investimento direto e total e o que tem sido incluído nessa cesta. De qualquer maneira, eu não falei sobre isso em meu primeiro texto. O que eu disse é que as aposentadorias devem estar fora do mínimo constitucional vinculado nos orçamentos dos estados e municípios (25% das receitas orçamentárias). Valeria retomar o assunto.
Aliás, se o texto do Senado ficar como está, o Brasil vai incluir transferência de recursos públicos ao setor privado para atingir a meta de financiamento da educação. Peço licença para pegar emprestada de Joyce sua frase final: Lord help us if so!